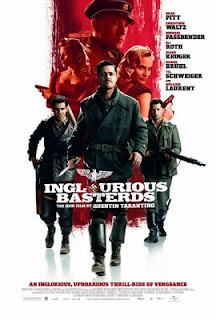Registo de uma antecipação do futuro, ou investigação sobre a situação de um clone, ou da própria clonagem? Entre a estética recuperada (deveria dizer citação?) dos filmes de ficção científica, ou deveria dizer ficção tecnológica?, —o preto e branco minimalista, estadia num lugar sem vida (sem água) apenas rochoso, inerte, o isolamento humano num meio adverso e impossível, sem condições vitais e, por isso, todo construído pela artificialidade em que o diálogo se processa com as chamadas inteligências artificiais (Gerty o computador/robot)— e a situação potencial de um ser humano que se descobre como um clone, perde-se a oportunidade de uma investigação filosófica. Ficam as sugestões.
A estética serve de porta à recepção e ao reconhecimento do filme. Além do habitual rol das citações, escreveu-se muito sobre a irrelevância (será que é?) da filiação de Duncan Jones —filho de David Bowie, ele próprio um fascinado e um contador de histórias de ficção científica bem como um adepto da transformação de realidades a partir da manipulação do corpo e da consciência, muitas vezes, construindo assim os seus alter egos— e das semelhanças com 2001– Odisseia no Espaço de Stanley Kubrik (podíamos acrescentar a série de televisão Espaço 1999). Por aí o filme encontrou uma aceitação e um lugar.
Porém, o aspecto mais interessante que se levanta e cujo aprofundamento ficou muito aquém do desejado, é o problema da identidade individual, e esse tema é introduzido por via da manipulação genética que permite a criação de clones que não só reproduzem um ser igual a outro como, também, lhe incorporam as memórias e os sentimentos do ser clonado, entretanto desaparecido. O tema prestava-se e até recuperando o David Cronenberg de eXistenZ.
Uma sucessão de clones (com três anos de tempo de vida) ia providenciando uma continuidade do trabalho de recolha de helium-3 do solo lunar para enviar como energia limpa para a Terra. O astronauta que aparece, parece mas já não é Sam Bell, o humano que foi enviado para a missão original. É já um clone que, por causa de um acidente em que parecia ter sucumbido, deu origem ao processo de substituição, acabando, depois de recuperar forças, por voltar à base e deparar-se sujo e ensanguentado, com um clone seu (imaginou ele) em perfeitas condições físicas e de aprumo. Depois de se confrontarem suspeitosamente descobriram que ambos eram clones e, assim, descobriram a trama que a empresa Lunar Industries urdira para garantir a colheita do helium-3.
Fica a clonagem como tema a explorar, o resto é um thriller lento. As semelhanças entre os clones são indistinguíveis, mas a memória também. O processo incluía esse chip. Para quê? Para afirmar que o clone não era um robot mas sim um humano? Porquê a memória do astronauta inicial? Para que sendo humano tenha tido uma vida que justificava a estadia naquela base. Mas serão as memórias dos homens um chip apenas que se incrusta? Que realidade se criou quando os clones se encontraram? O absurdo.
Ou seria, então, todo este processo da clonagem apenas o pesadelo de um moribundo carcomido pelo isolamento e pela artificialidade racional sem amor: o convívio num mundo inerte com uma inteligência artificial?